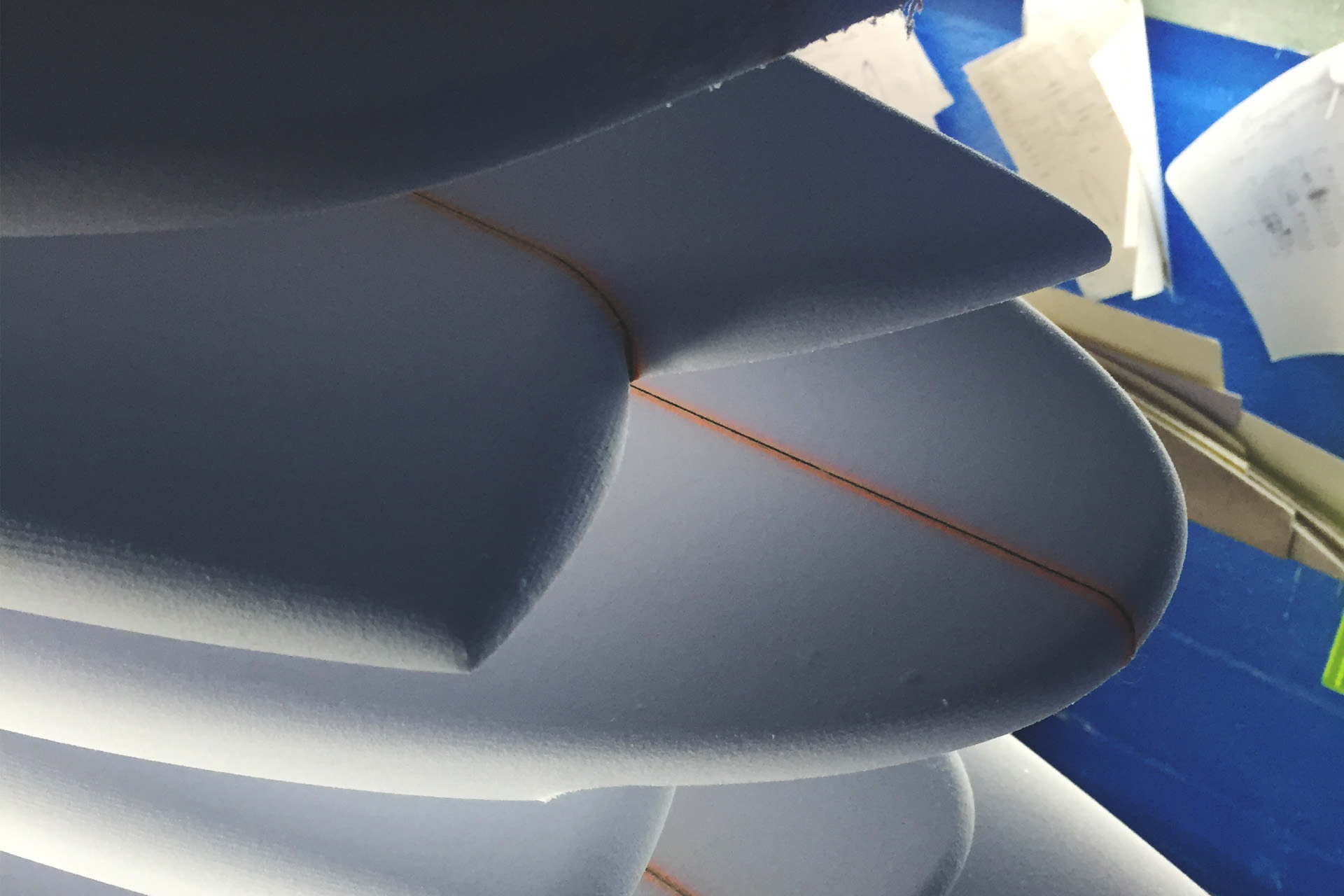Neste episódio do podcast VAsurfarGINA, a conversa é com Katia Rubio, uma sumidade dentro do universo que cruza esporte, psicologia e comunicação. Eu posso, e vou, enumerar cada um dos inúmeros títulos que fazem dela uma autoridade dos estudos olímpicos e vivência dos meandros esportivos. Mas, antes disso, eu preciso e quero dizer que talvez a melhor definição sobre a Katia eu encontrei no seu perfil do Instagram: “Mulher ligada nesse tempo.”
Professora associada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), a Katia é jornalista pela Cásper Líbero e psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com mestrado em Educação Física e doutorado em Educação pela USP, e pós-doutorado em Psicologia Social pela Universidade Autônoma de Barcelona.
Ela coordena o Grupo de Estudos Olímpicos da USP, fundou e presidiu a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte (Abrapesp), é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, membro da Academia Olímpica Brasileira e colunista do Caderno de Esporte da Folha de São Paulo. Com dezenas de livros publicados na área de Psicologia do Esporte e Estudos Olímpicos, a Katia, quando aceitou o convite para conversar comigo, resolveu que esse podcast sobre o surf feito pelas mulheres é merecedor da sua atenção.
Feliz da vida eu fiquei, e o que vem a seguir é uma enorme qualidade de conhecimento e informações que toda mulher, e homem que se preze, tem obrigação de absorver se quiser entender tudo que faz estarmos no pé em que estamos quando o assunto é a presença da mulher na prática esportiva. E, ainda, qual caminho se tem pela frente até chegar ao contexto ideal.
Feminino como adjetivo
Você já percebeu que o surf feito pelas mulheres vem sempre acompanhado do gênero como adjetivo para defini-lo enquanto o mesmo não acontece com os homens? Katia explica que o esporte, um fenômeno do século 19, começou a se estruturar nas escolas inglesas de tempo integral, que eram, via de regra, escolas masculinas. Àquela altura, às mulheres cabia estarem recolhidas ao lar, fossem elas meninas, moças ou mulheres adultas. Assim, o esporte se desenvolveu nas escolas masculinas que tinham por finalidade formar as lideranças inglesas para atuarem mundo afora. Era natural que, a partir do momento em que o esporte começasse a se institucionalizar, isso fosse feito por quem o praticava: homens. O advento dos Jogos Olímpicos reforça ainda mais essa condição quando, em sua primeira edição, de 1896, não se permitiu a participação das mulheres.
Então, a prática esportiva feminina não se dá por concessão. Ela se dá por luta.”
Katia explica que todo o ingresso de mulheres no esporte acontece entre outras conquistas das mulheres ao longo do século 20. E o padrão segue até os dias de hoje. Se hoje as mulheres conseguem de alguma forma espaço na prática esportiva, no campo da gestão esportiva isso não ocorre da mesma forma. Assim, a importância de se colocar feminino como adjetivo junto a qualquer explicação sobre prática feminina no esporte se dá por conta disso.
É preciso sempre relembrar a história para que não se naturalize a exclusão contemporânea com argumentos do século 19. É muita luta. E essa luta ainda não acabou”, define Katia.
Por outro lado, ela destaca que o impedimento não é forte o suficiente para evitar que essas barreiras sejam rompidas. O trabalho de pesquisa em diversas modalidade permite observar que as mulheres já conquistaram proporcionalmente mais espaço e mais títulos do que os homens quando comparado o tempo de prática feminino e masculino. Para ela, isso comprova que basta haver espaço e o mínimo apoio para que as mulheres mostrem toda sua habilidade.
Visibilidade não é respeito
É inegável que as mulheres, quando entram para o programa olímpico, ganham mais visibilidade. O não significa, porém, garantia de equidade. “Há expectativa de que no momento em que se chega no programa olímpico, haverá equiparação de prêmio, de visibilidade e de espaço midiático, o que não se concretiza porque esse ingresso também é uma conquista. Por isso a questão de gênero hoje é parte da agenda 20+20”, explica Katia, mencionando as recomendações estratégicas do Comitê Olímpico Internacional (COI) para o futuro do Movimento Olímpico e dos Jogos Olímpicos. Para ela, quando as questões da igualdade de gênero e da visibilidade passam a ser parte da estrutura de futuro do COI, isso passa a ser uma bandeira, e não mais apenas um desejo.
Por outro lado, ela aponta questões de ordem cultural, de acordo com cada país, que fazem isso se ampliar ou se reduzir. Se nos países europeus e nos Estados Unidos, por exemplo, a questão está muito mais avançada do que no Brasil, também é possível perceber que no Brasil estamos mais avançados em comparação aos países do Oriente Médio, onde as mulheres passaram a participar dos Jogos Olímpicos somente a partir de 2012.
Participação feminina no esporte olímpico
Do Brasil, a primeira mulher foi Maria Lenk na edição dos Jogos de 1932. Ela foi, aliás, a primeira mulher latino-americana. Na edição seguinte, de 1936, juntarem-se a ela outras mulheres, também na natação, e então no atletismo. Com o retorno dos Jogos em 1948, participam cerca de dez mulheres. E depois há uma fase, entre 1956 e 64, em que a delegação teve uma só mulher em cada uma das três edições olímpicas. Mary Dalva nos saltos ornamentais em 56; Wanda dos Santos em 60; e Aida dos Santos em 64.
Essa retração na participação feminina se explica pelo contexto histórico da época. Durante a Era Vargas, uma lei brasileira proibiu as mulheres de participarem em diversas práticas esportivas, causando um retardo impressionante no desenvolvimento do esporte feminino. Havia algumas mulheres, principalmente na natação e no atletismo, mas nas modalidades coletivas era impossível furar a barreira do preconceito.
Foi somente ao herdarem as vagas dos países que boicotaram os Jogos de 1980 e 84 que as brasileiras encontram sua oportunidade. Depois disso, elas nunca mais saíram do programa olímpico.
Era uma questão de espaço, de oportunidade e de competência”, resume.
O gráfico da participação feminina sobe a partir de 1980 e as medalhas começam a chegar em 96. Esse intervalo, avisa Katia, é uma questão natural diante do amadurecimento na competição. O vôlei feminino, por exemplo, herdou a vaga em 1980 e em 2012 era bicampeão olímpico. As conquistas, segundo Katia, não se dão de forma natural, mas sim por trabalho, demandando intercâmbio, aprimoramento técnico por parte da comissão técnica e grande mudança na preparação física do final do século passado para o começo desse.
Tudo isso vai fazendo a mulher sair daquela condição da bonitinha dos jogos para ser uma mulher poderosa do ponto de vista físico e técnico para ser campeã. Esporte não é campeonato de beleza. Esporte é campeonato de competência técnica.”
Corpo feminino e conservadorismo no esporte
Katia considera o esporte conservador por princípio devido à sua origem masculina aristocrática. No momento em que ele surge, há muito acontecendo pelo mundo. Havia, por exemplo, Freud estudando o que era a então denominada histeria feminina no final do século 19, mostrando que as mulheres histéricas eram aquelas que não aguentavam mais lidar com o conservadorismo e o controle dos seus corpos. Isso dialoga com a entrada das mulheres no esporte, segundo Katia, porque as mulheres que queriam o esporte eram aquelas que não se reconheciam dentro do “estereótipo do corpo frágil de uma boneca moldada pelos homens”, define.
A mulher quer usar o seu corpo para finalidade que lhe é própria, que faz parte do seu desejo. Isso não é fácil de lidar quando se tem uma sociedade milenar que trata a mulher como um ser de segundo plano.”
Ela explica que algumas modalidades permitem e até exigem o corpo frágil, moldado para ser delicado. Na ginástica rítmica e no nado sincronizado, por exemplo, o padrão foi definido pela origem no leste europeu, que tem como referência as bailarinas do Bolshoi, explica. “Quando isso é exportado para o mundo, as atletas que desejam estar na ponta têm o seu corpo moldado para esse padrão ou estão fora.” Algo que não se vê nas lutas, nas categorias mais pesadas ou em provas do atletismo como lançamentos e arremessos, por exemplo. Ou seja, nas modalidades que exigem das atletas uma consistência física mais robusta.
“Trata-se de uma grande disputa na mudança do paradigma de um corpo docilizado, tanto do ponto de vista gestual quanto da potência, a partir da construção de um imaginário masculino de delicadeza. Isso está mudando, mas a duras penas. E é preciso tempo para que se compreenda que um corpo que atende as finalidades do esporte – seja na potência, na força, na velocidade -, precisa de massa. E a massa não se esconde.”
Ela observa que, desde a década de 30 até agora, há um controle do corpo feminino para que ele não produza nada próximo do corpo masculino, mencionando os chocantes testes de feminilidade. Uma questão que, em seu julgamento, fere os direitos humanos.
É estabelecido um limite de potência, como se todas as mulheres tivessem que ser limitadas pelo máximo, e não pelo mínimo. Esse limite máximo não é imposto aos homens.”
“Quando você pega um (Usain) Bolt ou um (Michael) Phelps da vida, ninguém vai ver se os índices deles estão fora da normalidade da média masculina. Então por que o corpo feminino tem que passar por isso? Porque quem determina as regras são homens com cabeça do século 19”, diz.
Conquista do espaço e a cordialidade
Embora se tenha avançado muito em conquistas ao longo do último século, os espaços de liderança ainda não são abertos às mulheres. Ao ingressar numa atividade, a mulher julga que competência conquista o espaço. Mas muito além disso, Katia observa que é preciso fazer política. “Para conseguirmos avançar em alguma direção é preciso muito mais do que competência. É preciso um espírito de luta”, afirma.
Ela recorre ao termo cordialidade, usado por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil ao atribuir à sociedade brasileira a disponibilidade de não enfrentamento herdada da colonização portuguesa, para descrever também uma característica das lutas e conquistas femininas no Brasil.
Nas grandes ondas do feminismo no país, não se vê enfrentamento físico semelhante ao verificado na América do Norte ou na Europa. Quando desenvolveu pesquisa específica sobre as mulheres olímpicas brasileiras, Katia verificou que elas não percebiam discriminação por gênero. Das mais de 100 atletas entrevistadas, menos de dez diziam ter sentido algum tipo de discriminação.
Isso vem mudando com as gerações contemporâneas, as quais demonstram outra postura porque o discurso social mudou. “Quando isso passa a ser cada vez mais discutido abertamente nas escolas, nos meios de comunicação, nas novelas, isso vira pauta. Mas quando você tira essas questões das discussões maiores da sociedade, é óbvio que não vai aparecer no discurso das atletas que já lutam para serem convocadas”, analisa. São mulheres silenciadas sob o poder de decisão dos dirigentes. Há o medo de serem cortadas a qualquer hora.
É uma luta desigual porque a gente atua em duas grandes frentes, enquanto os homens só treinam e buscam um índice”.
A política no ato de pegar onda
Ainda que seja uma necessidade subestimada no contexto social, o esporte como fenômeno cultural está relacionado diretamente às grandes conquistas da sociedade e também tem sido uma forma de transgressão.
O atleta tem uma imagem pública reconhecida como potente e alguns conseguem usar a potência da sua imagem, relacionada à determinação, ao respeito e à energia de superação, para causas maiores. Isso não significa que todos os atletas vão se colocar na posição de porta-voz. “É um papel que ele pode ou não abraçar, dependendo do que ele identifica na sociedade como uma causa digna”, observa. Ainda assim, Katia cita filósofos da antiguidade para lembrar que viver em sociedade é um ato político.
Sempre que você tem que compartilhar espaço, seja um teto ou seja uma onda, isso é uma atividade política porque exige negociação”, observa.
“Infelizmente, se contaminou a discussão política com uma discussão partidária, mas todo ato de negociar é político. Seja no surf profissional, seja no surf amador ou no surf de tempo livre, se você botou a prancha debaixo do braço e foi para o mar, ali começa uma disputa (por espaço). É uma negociação.”
Mulheres nos espaços de liderança
Para continuar ampliando a presença das mulheres no esporte, há de se abrir frente nos espaços de liderança dentro das equipes técnicas e das entidades esportivas. A luta, como sempre, passa pela qualificação.
“Conheço algumas mulheres que estão buscando capacitação para estes cargos de gestão. Isso exige esforço, determinação e competência”, aponta.
No momento em que ocupam a posição com competência, elas vão criando filhotes e têm a base para sustentar essa posição. Não adianta uma mulher sozinha lá no topo da pirâmide sem ter estrutura embaixo”, considera.
Por isso, antes da qualificação é preciso desenvolver espírito coletivo. “O primeiro exercício é, sem dúvida, o exercício organizativo coletivo porque, sem isso, se a pirâmide tremer, ela (a mulher no topo) cai. Se você tem uma ação coletiva, essa base garante uma maior estabilidade para quem está em cima”, define.
O surf nas olimpíadas
Como pesquisadora dos Estudos Olímpicos, Katia afirma ver o ingresso do surf nas Olimpíadas com preocupação.
“O surf nasce como uma modalidade para ser livre, sem amarras. É um esporte de contato com a natureza que tem um imaginário relacionado com a liberdade, com respeito ao outro, que não nasceu para ser competitivo. Nasceu para ser alguma coisa que sugere fluidez”, opina. Entende que o universo olímpico é tentador para qualquer modalidade esportiva, mas destaca que, ao entrar para o programa olímpico, o surf é obrigado a se submeter a regras a que podem interferir no fenômeno social e cultural que a atividade representa.
“O primeiro risco que vejo é a perda da fluidez. Esperar a onda, por exemplo. No mundo olímpico, isso não existe porque a competição tem que acontecer”, descreve. A preocupação, segundo ela, também passa pela “camisa de força” que o universo olímpico representa em relação ao corpo e aos hábitos dos atletas. Ainda assim, acredita que é preciso experimentar.
Seja no surf ou no skate, vai ser muito importante (observar) como isso começa e até onde vai. Durante quanto tempo será que o surfista resiste às amarras do movimento olímpico? Essa é a grande questão a ser respondida”, sugere.
De qualquer forma, ela esclarece que as decisões relacionadas às modalidades que fazem parte do programa olímpico são feitas nas plenárias durante os congressos olímpicos. “Entrar é muito difícil porque exige uma política sem fim. Mas para sair, basta dizer que não está bom”, tranquiliza.
[skin-link-button text=”Apoie o VAsurfarGINA no Catarse” url=”http://catarse.me/flamboiar” custom_colors=”false” txt_color=”#353535″/]
VA surfar GINA também está disponível nas plataformas Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer e Spreaker.
[skin-wave-divider position=”horizontal” align=”center” color=”#353535″ animate=”true”/]